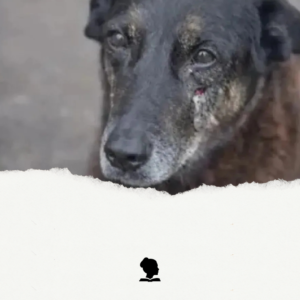O inimigo dos promotores da DEI e da CRT em todo o mundo tem um novo livro que descreve a marcha da esquerda radical através das nossas instituições e cultura popular. Embora muitos sem dúvida concordem com o diagnóstico, a cura oferecida é a certa?
Christopher Rufo é o homem de ação da direita americana. Talvez ninguém tenha feito mais do que Rufo para expor o verdadeiro objetivo da política de identidade e do seu braço de aplicação, o projeto de diversidade, equidade e inclusão (DEI): a abolição da vida americana. Nas palavras de Rufo, a DEI quer substituir os Estados Unidos burguês por um regime socialista, racial, de gênero indefinido, apoiado pelos governos federal e estadual, aplicado através de empresas e meios de comunicação, e estendendo os seus tentáculos a todas as cavernas obscuras da sociedade. As visões totalitárias exigem nada menos do que um completo repúdio às estruturas e subestruturas da sociedade de acordo com a análise marxista e, no caso americano, daquelas estruturas que manipulam as pessoas para servirem a um sistema de poder racista, sexista, branco, heterossexual e masculino. Cineasta e jornalista, as reportagens e escritos de Rufo sempre conectaram os leitores à ressonância emocional da DEI e às consequências da teoria crítica da raça (CRT), e às cidades, instituições, carreiras e vidas arruinadas deixadas em seu rastro.
O novo livro de Rufo, A Revolução Cultural da América: Como a Esquerda Radical Conquistou Tudo, dá conta de como obtivemos CRT, DEI, Black Lives Matter (BLM) e todo o tipo de patologias relacionadas. Ele pretende “compreender a ideologia que impulsiona a política da esquerda moderna, desde as ruas de Seattle até aos mais altos níveis do governo americano”. Esta é uma história intelectual ambiciosa, um esboço da “progressão da ideologia de esquerda desde o movimento estudantil radical da década de 1960 até ao chamado movimento antirracismo, que incendiou o país em 2020”.
Quem pode contrariar a ideia de que derrubar estátuas de estadistas e guerreiros americanos, difamar os nossos autores e a Constituição, e lançar calúnias sobre a ética de trabalho burguesa e a família nuclear, entre outros ataques lançados pelas políticas de identidade, equivale a uma revolução? Como observa Rufo: “As fundações do país estão começando a se soltar. Um novo niilismo está começando a rodear o cidadão comum em todas as instituições que importam: o seu governo, o seu local de trabalho, a sua igreja, a escola dos seus filhos, até mesmo a sua casa.” A república americana é “uma dádiva”, mas “não há garantia de que durará”. O homem comum “pode sentir isso em seus ossos”.
O que todos sentem é a substituição dos “direitos individuais por direitos baseados na identidade do grupo”, “um esquema de redistribuição da riqueza com base na raça” e a supressão do “discurso, baseado num novo cálculo racial e político”. Segundo Rufo, fomos invadidos pelo pensamento de inspiração marxista na forma de Herbert Marcuse, alemão e membro da Escola de Frankfurt, que chegou para lecionar em universidades americanas na década de 1960. Ele tornou-se o líder da Nova Esquerda, afirmando na conferência “Dialética da Libertação” em Londres, em 1967, que a “rebelião sexual, moral e política” devia ser concluída, juntamente com “a abolição do trabalho”, “o fim da luta pela existência” e “a transição do capitalismo para o socialismo”. Membros da gangue Baader-Meinhof, entre outros tipos de terroristas encantadores, o leem atentamente, observa Rufo. Suas ideias contagiaram os estudantes radicais da época. O seu princípio era “a Grande Recusa” ou “a desintegração completa da sociedade existente, começando com uma revolta nas universidades e nos guetos”. A teoria crítica de Marcuse arruinaria, então, os fundamentos da sociedade liberal. Rufo argumenta que os escritos de Marcuse pretendiam fomentar a revolução de quatro maneiras: “a revolta da intelectualidade branca rica, a radicalização da ‘população do gueto’ negra, a captura de instituições públicas e a repressão cultural da oposição”. Muito disso foi realizado.
Marcuse, entre outros pensadores de esquerda, começou a moldar a política da revolução no século XX, identificando a classe trabalhadora como um membro bem ajustado da estrutura capitalista da sociedade e, portanto, improvável de fazer parte de qualquer revolução. Em seu lugar, a era do “capitalismo tardio” apresentou novos candidatos à revolução socialista, observou Marcuse. Um grupo era a classe urbana negra, que poderia se unir à classe intelectual branca em ascensão, que estava fortemente inclinada contra a atual estrutura da vida americana. As possibilidades de derrubar as coisas iam além da classe e incluía raça, sexualidade e, em última análise, de acordo com a apropriação de Nietzsche por Marcuse, “a transvaloração de todos os valores prevalecentes”.
Marcuse justificou a violência revolucionária e as táticas antidemocráticas para promover os objetivos esquerdistas. Ele também encorajou os radicais a entrarem nas universidades, escolas, meios de comunicação e vários braços do governo, “trabalhando contra as instituições estabelecidas enquanto trabalham nelas”. Desta forma, eles poderiam controlar as “grandes cadeias de informação e doutrinação”, e iniciar a “vasta tarefa de educação política”. Neste trabalho paciente, o sistema seria quebrado e a “transição para a ação política em grande escala” se tornaria possível.
Por exemplo: Marcuse treinou Angela Davis na pós-graduação. A sua carreira e vida personificavam o terror revolucionário que o professor alemão invocara. Os escritos acadêmicos de Davis e as suas palestras e discursos prenunciam o núcleo antiamericano, antirracista e interseccional que agora forma a política de identidade nos Estados Unidos. Ela justificou a violência “como um meio de tirar o poder do opressor”. Além disso, “não podemos começar a destruir eficazmente o racismo até termos destruído todo o sistema”, e o sistema que precisava ser destruído era o americano.
Davis escapou por pouco da condenação por ser cúmplice de assassinato por um notório incidente em 1970 no Salão de Justiça do Condado de Marin, onde três presidiários de San Quentin se revoltaram durante uma audiência, junto com Jonathan Jackson na galeria, que exibiu uma pistola e uma carabina M1 . Eles conseguiram fazer um juiz, um promotor público e três jurados como reféns. Davis comprou as armas de fogo para o evento e esteve envolvido no planejamento. O juiz morreria em um tiroteio que se seguiu, junto com três dos quatro sequestradores, com os jurados e o promotor sobrevivendo. Davis estava esperando pelos militantes no Aeroporto Internacional de São Francisco, mas rapidamente voou para Los Angeles e se escondeu depois que as coisas ficaram violentas. Ela entrou nesse novo status na vida americana, a celebridade esquerdista, perseguida por querer um país melhor. Davis seria julgada por seus crimes, mas considerada inocente, pois os promotores não conseguiram ligá-la diretamente aos assassinatos.
Com o tempo, o apelo público de Davis diminuiu dramaticamente. Ela concorreu como vice-presidente pela chapa do Partido Comunista em 1979, mas recebeu apenas 45 mil votos. Seu verdadeiro trabalho, porém, foi na academia, ocupando cargos na UCLA, Rutgers, Claremont, Syracuse, Vassar, San Francisco State University, San Francisco Art Institute e na University of California, Santa Cruz. Rufo observa o óbvio: a plataforma que procurava enquanto estudante de pós-graduação em cotas raciais, teoria crítica, ideologia marxista, “estudos brancos” e estudos sobre colonialismo, imperialismo, escravatura e genocídio tornou-se um modelo universitário. Mas Davis foi a causa de todas essas patologias ideológicas que chegaram ao catálogo de cursos? O que se pode dizer é que a sua carreira e biografia incorporaram o quadro revolucionário. E é esse quadro que é agora ortodoxo na maioria das universidades, preenchendo os currículos e proporcionando a necessidade de legiões de administradores agitarem pelo cumprimento obrigatório dos decretos da DEI e das sessões de lavagem cerebral concomitantes. O simples fato de a academia ter abraçado uma criminosa marxista violenta que odiava o seu país e a civilização ocidental indica certamente que a podridão já se tinha instalado nestas instituições e que as consequências para o país seriam percebidas a tempo. É isso que estamos vivendo agora.
Rufo escreve sobre dois outros atores de poder acadêmico de esquerda: Paulo Freire, um intelectual brasileiro marxista-stalinista e maoísta, e Derrick Bell, professor da Faculdade de Direito de Harvard. Ambos os homens exerceram uma influência surpreendente em seus respectivos caminhos, emanando de Cambridge para o resto do país. Freire viria para a Harvard Graduate School of Education em 1969 e introduziria uma pedagogia do “marxismo crítico” na educação americana. Antigo líder da aplicação da educação no estado comunista africano da Guiné-Bissau, Freire via a educação como uma tentativa de aumentar a consciência do povo e libertá-lo. Ele foi expulso do Brasil por causa de suas visões revolucionárias comunistas e deixou os estudantes da Guiné-Bissau como os encontrou: analfabetos. Foi os Estados Unidos, nas suas faculdades de educação, e mais tarde no sistema de ensino primário e secundário, que viria a inspirar a pedagogia de Freire.
O que pode ser dito sobre Derrick Bell e da teoria racial crítica que seus alunos e discípulos gerariam que já não seja evidente em uma infinidade de sessões de doutrinação do DEI? Bell, o professor que o estudante Barack Obama elogiou como um homem de “verdade” em um comício em homenagem a Bell, declamou o constitucionalismo americano e os seus redatores, o que nos deu uma “história de escravos da Constituição”. Não há nada de bom nos Estados Unidos, segundo Bell – “o racismo é um componente integral, permanente e indestrutível desta sociedade”. Além disso, “o racismo que tornou a escravatura viável está longe de estar morto na última década da América do século XX”. Aqueles que promovem a igualdade daltônica, explicou Bell, apenas promovem uma nova forma de racismo “mais opressiva do que nunca”. A visão de Bell sobre a América está enraizada num pessimismo fixo e mórbido de que a Constituição foi a ferramenta dos interesses da elite branca, sempre e para sempre. E suas principais vítimas eram os negros.
Em duas coletâneas de contos, And We Are Not Saved e Faces at the Bottom of the Well, Bell retratou os brancos como agentes da depravação que se regozijavam com o sofrimento dos negros. Numa história, os brancos pagaram de bom grado um imposto sobre a discriminação para obterem uma licença para excluir os negros das suas associações. No outro, “The Space Traders”, eles enviam a população negra para o espaço exterior com invasores alienígenas em troca da extinção da dívida nacional. Além da visão de Bell da teoria racial crítica, existe outra coisa, um ódio sombrio e miserável pelos Estados Unidos e pelos brancos. Tal desprezo total é incapaz de amor, perdão, magnanimidade, ou mesmo da capacidade de cogitar a possibilidade de que os seres humanos e as instituições que eles moldam possam mudar para melhor.
Poderíamos desafiar aspectos da história intelectual de Rufo e observar o que também funciona aqui: a corrupção simples e a procura de interesses no curto prazo, à medida que carreiras lucrativas na academia, no governo e na administração universitária são criadas com estas ideias. Mas a causalidade imediata destas ideias com os acontecimentos que afetaram a vida americana torna extremamente difícil rejeitar completamente o relato de Rufo. Deveríamos questionar se Rufo exagera a força do seu inimigo, não compreendendo bem a sua fraqueza fundamental. Embora a Nova Esquerda tenha tomado muitas instituições da vida americana – meios de comunicação, governo, grandes empresas e instituições educativas – a sua revolução permanece lamentavelmente incompleta.
Ele diz que observando que a Nova Esquerda “em 1968 foi capaz de iniciar o processo de desintegração dos antigos valores, mas não conseguiu construir um novo conjunto de valores para substituí-los”. Os esquerdistas dos anos 60 ratificaram a violência na forma do Exército de Libertação Negra, do Weather Underground e dos Panteras Negras, e por isso foram rejeitados pela sociedade americana. Muitos destes mesmos pensadores e ativistas de esquerda, no entanto, responderam voltando o seu fogo para dentro, rejeitando a violência total e treinando os seus esforços para capturar as instituições dominantes de opinião e educação na sociedade americana. O seu esforço de quase 50 anos foi incrivelmente bem sucedido, mas continua falho.
Praticamente todas as instituições capturadas e reformadas pela ideologia revolucionária tornaram-se desagradáveis e desprovidas da devoção que outrora tínhamos por elas. O ensino superior é certamente um dos maiores exemplos do poder progressista de esquerda e da sua derradeira impotência enfurecida. Rufo acena nesta direção, afirmando: “As universidades perderam a antiga essência do conhecimento, substituindo-a por um conjunto inferior de valores orientados para identidades e patologias pessoais”. De forma análoga, “as escolas públicas absorveram os princípios da revolução, mas não conseguiram ensinar as competências básicas da leitura e da matemática”. Isto não significa negar ou evitar as patologias profundas das políticas de identidade e as suas manifestações em diversas instituições e a fidelidade que exigem. Mas o apelo romântico do inimigo se dissipa rapidamente com o contato. O que é gravemente preocupante é a forma como as principais instituições aprovam ou caminham na direção dos revolucionários, ao contrário do que acontecia no final da década de 1960, quando a maioria das nossas principais instituições desaprovava os seus métodos e objetivos.
Ao contrário de grande parte dos escritos conservadores sobre estes assuntos sombrios, Rufo entra e sai da teoria formal, esforçando-se para conectar os leitores com a substância dessas ideologias, ao mesmo tempo em que deixa claro que os defensores da DEI destroem e dividem as pessoas dentro do governo, das escolas e das empresas, substituindo aquilo que difama por nada além de queixas e um individualismo niilista. Tal negação atribui todo o significado à raça ou ao gênero, em detrimento absoluto da razão, da liberdade, da virtude e da crença em uma natureza humana partilhada que pode, por exemplo, tornar a sociedade voluntária não só possível, mas desejável para o florescimento.
Não poderá haver limites ao poder do governo se decidirmos que os resultados raciais e de gênero devem ser iguais em toda a sociedade. E, no entanto, os Estados Unidos continuam a ser uma sociedade aberta e dinâmica, também construída sobre uma tradição de constitucionalismo que deveria fornecer amplos recursos para enfrentar este desafio e rejeitá-lo. A recuperação desta tradição deve ser fundamental para a “contrarrevolução” que Rufo apela na conclusão do livro. No entanto, se a contrarrevolução, que Rufo deixa menos especificado, significa apenas replicar o fascínio da esquerda pelo poder e pela dominação com a sua própria versão da direita americana de uma marcha através das instituições, então ele falhará nesta tradição, e provavelmente falhará no resultado prático.
Artigo Original: The Abolition of America
Escrito por: Richard M. Reinsch II
Traduzido por: Davi Navarro Carneiro
Revisado por: Henrique Zanetti