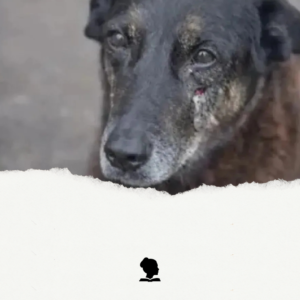O Estado Moderno, concebido como a corporação de um povo, assentada num determinado Território e dotada de poder soberano1, nasceu com a promessa de garantir a ordem, a propriedade e as liberdades individuais. Contudo, a intensa dinâmica de um mundo cada vez mais globalizado e interconectado revelou um paradoxo: o aparato criado para proteger tende, por sua própria natureza e expansão, à hipertrofia do poder, o que ameaça a autonomia do cidadão e a estabilidade econômica.
A Co-Gênese do Estado e a Ambiguidade da Intervenção
O Estado Moderno e a Economia Capitalista estão altamente correlacionados no tempo histórico, tendo nascido no bojo do mesmo processo de desagregação da ordem feudal. O advento do Estado exigiu o estabelecimento de fundamentos lógicos que garantissem a economia: ao monopólio da violência corresponde à proteção da propriedade privada, e ao monopólio da implementação da moeda corresponde a estabilidade do valor real da moeda.
A modernidade, contudo, exige que o Estado se expanda além do “Estado mínimo”. A plena operação do mercado exige que o poder público atue, garantindo a “operação impessoal das normas vigentes” e mitigando as “externalidades”. O Estado possui a atribuição complexa e paradoxal de interferir continuamente na operação do mercado para de fato “refundar” permanentemente o próprio mercado.
Aliás, acerca dessa expansão estatal frente aos desafios da modernidade, uso das palavras de Bruno P. W. Reis:
As fontes de legitimidade da democracia moderna colocam-na, portanto, numa posição delicada, em que suas perspectivas de estabilidade passam a depender de uma combinação razoavelmente complexa de fatores. Em primeiro lugar, a adesão a princípios democráticos requer o abandono progressivo de fins substantivos a serem perseguidos pelo sistema político, em favor de uma valorização crescente de determinados procedimentos a serem seguidos. No limite, esses procedimentos apóiam-se em formas específicas de tratamento entre as pessoas tomadas individualmente, pessoas essas cujo bem-estar (definido de maneiras variadas por cada uma delas) se torna o grande fim legítimo a ser buscado, o que é consistente com a máxima kantiana que obriga a todos a tomarem cada ser humano como “um fim em si mesmo”. Todavia, temos claramente um problema aqui quando constatamos que esses procedimentos, dessas formas de tratamento, às pessoas evidentemente esperam resultados específicos para as suas vidas, nem sempre compatíveis uns com os outros. Pois, na sociedade moderna, liberal, o fim a ser coletivamente perseguido não mais pode consistir em um feito coletivo, mas sim numa certa liberdade – desfrutada individualmente – para buscarmos o fim que pessoalmente nos aprouver, contanto que ele não inclua o uso direto de violência sobre terceiros. O problema reside em que – como nos diria De Swaan – não há maneira de o sistema se assegurar a priori contra as “externalidades” que a livre busca da felicidade por cada um necessariamente produzirá sobre as chances de realização da felicidade de outros. Disso resulta a sensação, compartilhada por tantos em nosso tempo, de estarmos no interior de uma imensa e insensível engrenagem, um enorme moedor de carne. É evidente que, na ausência de algum controle externo (e talvez mesmo na presença dele), a pura operação dessa engrenagem impessoal reproduz inevitavelmente desigualdades de todo tipo, que impedem mesmo a genuína competição por não permitir concretamente a necessária “igualdade de oportunidades” para todos. A disseminação da idéia de que vivemos em uma sociedade que “não se importa com as pessoas” subverte o desafio básico do Iluminismo, que inspira toda a modernidade (tomar cada um como um fim em si mesmo), e pode provocar graves crises de legitimidade e autoridade do sistema, pondo em permanente risco a própria sobrevivência da democracia. A sociedade moderna tem diante de si o desafio complexo de equilibrar-se perante esse problema. Ela tem de permitir a cada um buscar a própria felicidade segundo uma compreensão pessoal do que seja essa felicidade, impondo, de um lado, uma feroz competição entre as pessoas (na medida em que contesta a legitimidade de critérios descritivos de estratificação), mas ao mesmo tempo vê-se obrigada a intervir continuamente nessa competição (de certa maneira desvirtuando, sim, seus resultados, como se queixam os liberais mais ortodoxos) de forma a assegurar níveis mínimos de igualdade de oportunidades entre os cidadãos, abaixo dos quais a competição mesma perderia toda a credibilidade entre os contendores, induzindo-os ou à acomodação cínica que não hesita um segundo em burlar as regras da competição em proveito próprio quando a ocasião se apresenta, ou à contestação frontal da legitimidade do sistema (ou mesmo – o que não é raro – a ambas). Com efeito, o poder público tem a atribuição complexa e paradoxal de interferir continuamente na operação do mercado para de fato refundar permanentemente o próprio mercado, ao mantê-lo em um estado tão próximo quanto possível da “concorrência perfeita” e amparar minimamente os casos de insucesso, dada a tendência concentradora que resulta da livre interação dos agentes econômicos no mercado. Na ausência de interferência externa, essa tendência cristaliza relações econômicas originariamente mercantis em relações coercitivas descritivamente definidas, a partir do uso irrestrito – por alguns poucos – do poder econômico que resultaria de seu sucesso inicial na competição mercantil.
Essa mesma intervenção, no entanto, é a raiz do problema. Teóricos como Inglehart e seus colaboradores alertam que a intervenção estatal para além de certo limite pode converter-se em “opressão à liberdade dos indivíduos”.
Acerca disso, em sua tese de doutorado, Valéria Cabreira Cabrera (2021), em “A Teoria do Desenvolvimento Humano de Ronald Inglehart: uma defesa normativa da teoria liberal da democracia”, argumentou:
Salienta-se, nesse sentido, que, não obstante reconheçam o papel do Estado de bem-estar social para a dinâmica presente em sua teoria, Inglehart e seus colaboradores adotam posicionamento contrário à intervenção estatal para além de certo limite, o que, consideram, poderia converter-se em opressão à liberdade dos indivíduos. Por isso, os autores procuram mitigar a essencialidade das políticas sociais para impulsionar a mudança cultural que descrevem, dando-lhes lugar secundário e auxiliar, bem como tratando seus resultados como consequências óbvias da modernização (essa sim, em evidência em suas análises, esquemas e em sua regra geral, pela qual o desenvolvimento econômico conduz à democracia ao gerar mudança cultural). Assim, busca-se argumentar que, por seu posicionamento ideológico em relação à política econômica, os autores acabam por propor uma explicação da democratização e do avanço da democracia liberal no mundo apartada dos aspectos atinentes à política.
Assim, embora assumam a relevância das políticas sociais para a mobilização social que conduz à mudança cultural, deixam de dar-lhes centralidade, delineando uma trajetória de ascensão da democracia possível e previsível para quaisquer contextos de política econômica, inclusive a neoliberal. Mais tarde, Inglehart (2018a) e Norris e Inglehart (2019) pedem urgência na aplicação de políticas sociais que contenham as desigualdades extremadas em sociedades altamente industrializadas, a fim de barrar a queda das democracias liberais, deixando evidente, ainda que implicitamente, que sua teoria imprescinde da política (e do comportamento de atores políticos) para concretizar-se e, por isso, sua realização como uma regra geral de longo prazo torna-se limitada. Por isso, para além de constituírem-se em efeitos periódicos que barram a trajetória da democracia prevista, os fenômenos ditos solucionáveis (como as desigualdades sociais), assim como suas soluções por vias políticas, fazem parte da trajetória. Delinear um caminho cultural subjacente de longo prazo, que não considere desde logo a política, ainda que válido, somente pode resultar em diversas exceções e efeitos periódicos a barrá-lo.
Nas publicações datadas até a primeira metade dos anos 2000, Inglehart e seus colaboradores utilizam os termos “modernização” e “desenvolvimento econômico” para referir-se à fase inicial da dinâmica de democratização que propõem. Mais tarde, passam a adotar a expressão “desenvolvimento socioeconômico”, embora não tenham deixado de referir-se à “modernização”, já que o termo aparece também em seus textos representando um período anterior e distinto em relação à “pós modernização” ou à “pós-industrialização”. A partir disso, atentou-se para a importância das políticas de bem-estar social para o caminho da democracia delineado na teoria e, sobretudo, para o ímpeto do autor de mitigar tal relevância durante grande parte do período de desenvolvimento de sua teoria, alinhando-se, em alguma medida, à perspectiva de política econômica dominante.
No entanto, mais tarde, reconhecendo serem as políticas sociais portadoras de condições indispensáveis para a mudança de valores que conjecturam, os autores passam a utilizar a expressão “desenvolvimento socioeconômico”, deixando aparente a ideia de que o desenvolvimento econômico que não gere desenvolvimento social não produz a mudança cultural desejada. Essa foi uma mudança de tratamento discreta, pois, de fato, não representou mudança na abordagem. Tratou-se, pelo que se observa, de um movimento com fim de afiançar a ideia de que a modernização por si só não gera a mudança de valores requerida e, ao mesmo tempo, da afirmação subjacente de que nunca pretenderam eliminar a importância das políticas sociais da explicação da democracia liberal que propõem. Entretanto, segundo entendem os autores, o desenvolvimento social – representado por aspectos tais como a elevação dos níveis de educação, a diminuição da pobreza, a erradicação da fome etc. – é uma consequência cabal do desenvolvimento econômico, isto é, creem que muito dificilmente o desenvolvimento econômico deixará de gerar desenvolvimento social. Ao mesmo tempo, Inglehart (1997, p. 4, tradução nossa) reporta uma hipótese explorada em trabalhos seus anteriores, em que, embora ainda não utilizasse a expressão “desenvolvimento socioeconômico”, destacava a importância paralela do Estado de bem-estar social, dando pistas de que, para além de uma consequência óbvia do desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social depende de ação dos agentes políticos: […] como resultado do rápido desenvolvimento econômico e da expansão do Estado de bem-estar social após a Segunda Guerra Mundial, as experiências formativas das coortes de nascimentos mais jovens na maioria das sociedades industriais diferiram das coortes mais antigas de maneiras fundamentais que os levaram a desenvolver prioridades de valor distintas.
Deste modo, a expansão das demandas por direitos sociais modernos implica uma “invasão do contrato pelo status” (Marshall, 1965, p. 122) e leva o Estado a manter déficits fiscais elevados, o que é alarmante e prejudica o investimento e a economia.
Como diz o próprio Marshall (1965, p. 122), “os direitos sociais em sua forma moderna implicam uma invasão do contrato pelo status”.
E como apontou E. E. Schattschneider (1960, cap. II), a clivagem e a abrangência da disputa são parâmetros decisivos na determinação do resultado de um conflito político qualquer. E, no cap. VI, ele não deixa de atribuir à dinâmica do conflito político a extensão progressiva do direito de voto.
A Tutela Política: Censura e Crise de Legitimidade
Na esfera política, o paradoxo se manifesta na crise da soberania e na tendência à “democracia tutelada”. Embora a soberania ainda seja citada como fundamento constitucional (e.g., CF, art. 1º, I), o poder de mando de última instância está em crise, sendo limitado externamente pela tutela dos direitos humanos e internamente pela submissão do poder soberano aos direitos fundamentais (sujeição substancial).
A crise se aprofunda quando o Estado, sob pretexto de proteção, adota o que Maultasch (2022, p. 14) denomina de “molde retórico que reafirme um apreço genérico pela Liberdade de Expressão enquanto, ao mesmo tempo, oferecer um álibi conceitual para o silenciamento das opiniões indesejadas”. A Suprema Corte brasileira, por exemplo, determinou a remoção integral de anúncios, textos e informações que criticavam o PL 2630, veiculadas “a partir do blog oficial da Google”. O conceito de censura, nesse contexto, independe de ser prévio ou posterior, pois se refere à “presença da coerção e da punição”: se há previsão de uso da força para punir a conduta, há coerção.
As leis no Estado Democrático de Direito refletem consensos circunstanciais, sendo constantemente modificadas para refletir os novos consensos que emergem ao longo do tempo na sociedade. Utilizar a lei como fundamento para delimitar princípios gerais serviria, portanto, como um freio ao próprio funcionamento da democracia: “o que estamos discutindo é precisamente a natureza do justo independentemente da lei para, a partir disso, julgar a própria lei; e quando é a lei que está no banco dos réus, precisamos colocar outra coisa na bancada dos magistrados” (Maultasch, 2022, p. 58).
Maultasch ainda pondera que “[…]o conceito de proibição não tem a ver com anterioridade ou posterioridade da força dissuasória, com a existência ou não de patrulhamento prévio; tem a ver com a presença da coerção e da punição: caso haja previsão de uso da força para punir a conduta, então há coerção e, portanto, pode-se dizer que a conduta é proibida” (Maultasch, 2022, p. 62).
Nesse sentido, o conceito de censura independeria da restrição à expressão ser feita via controle prévio ou ameaça de punição posterior.
Essa postura de “vanguarda de esclarecidos” que busca tutelar todos os aspectos da vida do cidadão leva à limitação da liberdade de expressão, que se torna uma “ferramenta de poder para silenciar adversários políticos”.
A Crítica Anarquista à Dominação Inerente
A crise de legitimidade se conecta à crítica radical de que o Estado Moderno é, inerentemente, um instrumento de dominação. A análise anarquista sustenta que o Estado e dominação, bem como Estado Moderno e capitalismo, são indissociáveis e interdependentes. Bakunin e Kropotkin afirmam que o Estado moderno, em todas as suas formas ou regimes de governo, é um instrumento político de dominação de classe e mantenedor do status quo.
Assim como constatado por Bakunin, Kropotkin também percebe o caráter dominador e expansionista do Estado na medida em que promove uma cultura de guerra no sentido de desenvolvimento do poder.
Quem diz “Estado”, necessariamente diz “guerra”. O Estado procura e deve ser forte, mais forte que seus vizinhos; caso contrário, será um joguete nas mãos deles. Procura, de modo inevitável, enfraquecer, empobrecer outros Estados para lhes impor sua lei, sua política, seus tratados comerciais para se enriquecer às suas expensas. A luta pela preponderância, que é a base da organização econômica e burguesa, é também a base da organização política. Eis por que a guerra tornou-se hoje, a condição normal da Europa (KROPOTKIN, 2005, p. 29).
A visão de que o Estado é necessário para evitar a “guerra perpétua” (presente no contratualismo de Hobbes) é vista pelos anarquistas como uma falácia, baseada em teorias do “estado de natureza” e “contrato social” que são falsas. Segundo Proudhon (1988, p. 69), o Estado civil, mesmo sendo hoje democracia, [é] tirania sempre.
Segundo Pierre Ansart (1971, p. 127), em Proudhon, a ligação Estado-dominação considera que as relações sociais estabelecidas e mediadas pelo primeiro implica, obrigatoriamente, na segunda: “o Estado, seja autocrático ou democrático, é por essência uma relação de desigualdade e subordinação, já que concentra autoridade e exige a submissão dos cidadãos”. Assim, a dominação do Estado é constatada em razão dos elementos que o constituem: alienação política, monopólio do poder e governo privilegiado de minoria
Bakunin também demonstra a contradição entre Estado e humanidade, abordando, para tanto, os horrores praticados pelos representantes dos Estados sob a justificativa de “razão de Estado” ou pelo “bem da nação”, quando, na realidade, esses horrores são praticados sob os interesses e proteção das classes dominantes.
Não há horror, crueldade, sacrilégio, perjúrio, impostura, transação infame, roubo cínico, pilhagem impudente e imunda traição que não tenha sido ou que não seja cotidianamente realizado pelos representantes dos Estados, sem outra desculpa além desta expressão elástica, simultaneamente tão cômoda e tão terrível: razão de Estado! (BAKUNIN, 1988, p. 98).
Em complemento às observações de Bakunin e Kropotkin, Emma Goldman aborda sobre a contraposição entre Estado e indivíduo, afirmando que quem luta por justiça é o indivíduo, enquanto o Estado é propagador de injustiças. De acordo com a autora, o “espírito do homem, do indivíduo” que rebela-se contra a injustiça e o aviltamento; […] O indivíduo é o gerador do pensamento liberador, assim como do ato liberador” (GOLDMAN, 2007, p. 35).
Nesse sentido, o homem é o agente transformador, o agente da história. Já o Estado é a ferramenta utilizada para atrasar esse processo e, consequentemente, o progresso da humanidade.
O Estado, o governo, qualquer que seja sua forma, característica ou tendência, quer seja autoritário ou constitucional, monárquico ou republicano, fascista, nazista ou bolchevique, é, por sua própria natureza, conservador, estático, intolerante e oposto à mudança. Se às vezes evolui de maneira positiva, é que, submetido a pressões fortes o bastantes, é obrigado a operar a mudança que se lhe impõe, pacificamente às vezes, brutalmente na maioria das vezes, quer dizer, pelos revolucionários (GOLDMAN, 2007, p. 35).
Portanto, o paradoxo central é que, ao exercer maior controle e maior vigilância e ao se expandir para atender a demandas de proteção social e de mercado, o Estado se aproxima da opressão e confirma a suspeita anarquista de que ele é, essencialmente, um poder dominador e centralizador, colocando em risco a própria sobrevivência da democracia.

- Para as categorias centrais deste trabalho, adotamos os seguintes conceitos
operacionais:
Estado Moderno: é a corporação de um povo, assentada num determinado
Território e dotada de poder soberano. Conceito operacional formulado a partir do conceito proposto por Georg Jellinek (1914 apud BONAVIDES, 2006, p. 71), segundo o qual Estado “[…] é a corporação de um povo, assentada num determinado território e dotada de um poder originário de mando”. Preferimos substituir a expressão “poder originário de mando” por “poder soberano” pois esta última evidencia, mais claramente, a presença da categoria Soberania como elemento básico do conceito de Estado Moderno.
Estado Constitucional Moderno: é a corporação de um povo, com Soberania
assentada num determinado território, marcada pelo princípio da legalidade, a supremacia
da Constituição, a tripartição dos poderes e a democracia representativa. Conceito operacional formulado a partir do conceito de Estado proposto por George Jellinek e do conceito de Estado Constitucional Moderno, proposto por Paulo Márcio Cruz, segundo o qual “Estado Constitucional Moderno deve ser entendido como aquele tipo de organização política, surgida das revoluções burguesas e norte-americana nos séculos XVIII e XIX, que tiveram como principais características a soberania assentada sobre um território, a tripartição dos poderes e a paulatina implantação da democracia representativa.” (CRUZ; BODNAR, 2010, p. 56).
↩︎